A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina (DEM) concedeu uma entrevista ao jornal Estadão, publicada no dia 05 de julho de 2020, na qual destilou um festival de ideias rasas sobre as relações entre “sustentabilidade” e agronegócio.
Chamou atenção, em especial, a seguinte declaração, repleta de falácias e argumentos distorcidos:
“[O agronegócio] não precisa [da Amazônia]. Hoje, com as necessidades da população no Brasil e em todo o mundo, não precisa. E não se trata só disso. A Amazônia não tem logística para tirar produção. Você tem que fazer estrada, aumentar porto, ferrovia. A região não possui essa infraestrutura. Além disso, nossa tecnologia de agricultura foi feita para regiões como o Cerrado, para o Sul e Sudeste. E essa tecnologia muda conforme a região”.
Você sabe reconhecer os “7 erros” na fala da ministra?

A estratégia do agronegócio de se apossar dos territórios e ir “passando a boiada”, ou seja, derrubando a floresta para colocar pastagens e, em algumas regiões, depois entrar com a soja, ganhando com a venda ilegal da madeira no processo, já é conhecida dos povos e das organizações da Amazônia. Na maioria dos casos é também o modus operandis de consolidação de grilagens de terras públicas ou mesmo invasão de posses centenárias de comunidades tradicionais e povos indígenas.
O gado é, sem dúvida, uma das maiores expressões do agronegócio tupiniquim: temos o maior rebanho comercial no mundo com cerca de 221,9 milhões de cabeças e a Amazônia é um dos locais que a grande agropecuária escolheu para se expandir desde as décadas de 1970/80. A prova disso é que dos 10 municípios com maiores rebanhos, 07 estão na Amazônia Legal, totalizando mais de 7 milhões de cabeças. Sem falar que fica na região o campeão melhor ranqueado em rebanho bovino nos últimos 10 anos – São Félix do Xingu (PA), que possui atualmente cerca de 2,5 milhões de cabeças, e aumentou mais de 800% entre 1998 e 2018 (ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes). Dados do IBGE também comprovam que há uma diminuição da atividade pecuária nas regiões Sul (3%), Sudeste (4%) e Centro-Oeste (1%) e aumento da região Norte (8%) entre os anos de 2010 e 2016, demonstrando que a Amazônia é a escolhida para a migração das regiões historicamente mais fortes do setor agropecuário.
Outras “pistas” que apontam para uma tendência de ocupação do agronegócio na Amazônia: a descaracterização da fiscalização e monitoramento ambiental com a fragilização do IBAMA, ICMBio e INPE e a recente revogação do decreto 6.961/2009 que vetava o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal, que é uma tentativa clara de empurrar a fronteira agrícola para a floresta, utilizando a cana para ocupar os pastos e forçar a abertura de mais pastagens. Outro indício forte vem das tentativas de mudanças no tamanho das reservas legais que vêm sendo propostas por alguns estados que querem expandir ainda mais a agropecuária sobre a suas porções amazônicas, como no Maranhão, que quer flexibilizar a necessidade de reserva legal de 80 para 50%. Outras iniciativas vêm colaborar com esta tentativa de diminuição de reserva legal na Amazônia e aumentar o desmatamento, como a MP 901/2020 e o PL 551/2019.
Além disso, estão os últimos esforços de tentativa de flexibilização da legislação de terras e legalização da grilagem, que vêm ocorrendo mais recentemente desde o Programa Terra Legal, passando pela MP 930 / PL 2633, além do suporte ao planejamento estratégico fornecido ao agronegócio com o Matopiba (que envolve áreas de transição Cerrado-Amazônia) e mais recentemente com a proposta de criação da Amacro (Zona Especial para o Desenvolvimento Agropecuário nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia). E também as ações de titularização dos assentamentos, que continuam na região e são uma maneira clara de aquecer o mercado de terras. Tendo em vista que, segundo dados do INCRA, os assentamentos na Amazônia são os que menos receberam proporcionalmente acesso a políticas de melhoria produtiva e de infraestrutura, com a emissão de títulos individuais de propriedade, pela forte pressão e necessidade de recursos financeiros, os assentados da reforma agrária estão repassando as terras adquiridas pelas nossas já restritas políticas de reforma agrária ao agronegócio.
Tudo isso derruba a argumentação de que “o agronegócio não precisa da Amazônia” para crescer. Mas bem que gostaríamos que fosse verdade!

O agronegócio não atua a favor das necessidades de alimentação da população brasileira e do mundo. Sua produção é majoritariamente destinada a commodities para exportação ou como insumo para processos industriais, tais como soja, milho, cana-de-açúcar, celulose e carne. O que determina se algumas dessas commodities são vendidas como insumos industriais, agrocombustíveis ou ração para animais (nos casos em que esses usos se aplicam), é a situação do mercado, a qualidade e o preço. As negociações são feitas entre as grandes corporações e empresas investidoras no mercado financeiro internacional. Logo, o que motiva o agronegócio é o lucro.
Ao contrário da afirmação de que o agronegócio não precisa da Amazônia, o aumento do desmatamento e das queimadas está diretamente relacionado à expansão da fronteira agrícola para essa região, por meio das pastagens para criação de gado e, indiretamente, das monoculturas de soja. É um sistema agrícola estruturado pela elevada concentração de terra, de modo que 47,6% da área agrícola do país está nas mãos de menos de 1% das propriedades (Censo 2017). Essa concentração se intensifica com a grilagem de terras públicas, agravando ainda mais os conflitos agrários e a violência no campo, como mostra o relatório “Conflitos no Campo Brasil” da CPT referente a 2019.
Na contramão dessa lógica, a agricultura familiar e camponesa é responsável por colocar comida de verdade na mesa das famílias brasileiras, produzindo 48% do valor da produção de café e banana, 80% da mandioca, 69% do abacaxi e 42% do feijão (Censo 2017). Toneladas de alimentos agroecológicos têm sido doadas para pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19, por meio de campanhas de solidariedade promovidas por organizações e movimentos populares, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).
Quem alimenta o Brasil e o mundo com comida de verdade é a agricultura familiar e camponesa!
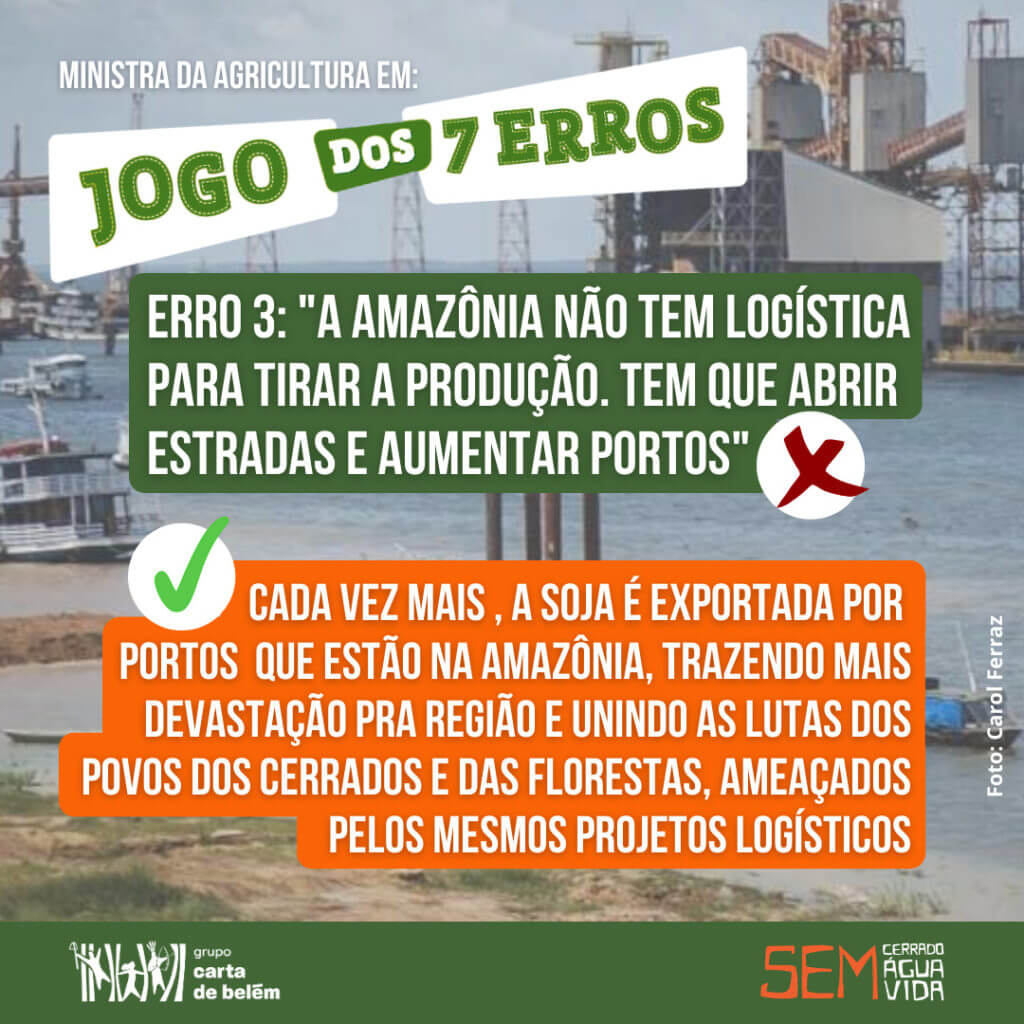
De acordo com dados da ANTAQ, entre 2014 e 2018, os complexos portuários onde mais cresceu o volume de soja exportada no país estão na Amazônia: Barcarena e Santarém, ambos no Pará, e Itaqui, em São Luís (MA). Estes tiveram, respectivamente, 580%, 246% e 180% de crescimento no período. Em 2018, dos 10 principais portos em termos de volume de soja exportada no país, 5 estavam na Amazônia: Barcarena (PA), Itaqui (MA), Itacoatiara (AM), Santarém (PA) e Porto Velho (RO).
A soja exportada ali sai majoritariamente das fronteiras agrícolas do Cerrado (MATOPIBA) e da transição Cerrado-Amazônia no Norte do Mato Grosso e cruza rios e estradas até chegar aos portos amazônicos onde é embarcada para exportação. Além de escoar a soja do Cerrado, esses portos estão favorecendo a ampliação dos monocultivos de soja na própria Amazônia, em lugares como as ilhas de cerrados em Roraima e Amapá, na transição Cerrado-Amazônia no Norte do Mato Grosso e leste de Rondônia, na região de Humaitá no Amazonas e no planalto Santareno e Paragominas no Pará, causando conflitos agrários e devastação.
Como se não bastasse, para ampliar essas rotas de exportação de soja, alguns dos principais projetos logísticos previstos para serem construídos ou concedidos a investidores privados pelo governo Bolsonaro são ferrovias e rodovias conectando as fronteiras da soja no Cerrado com portos da Amazônia, como a chamada Ferrogrão (entre Sinop/MT e Itaituba/PA). Entre as rodovias já existentes que pretendem ampliar e conceder à iniciativa privada estão trechos da BR-163 (também entre Sinop e Itaituba), BR-319 (entre Rondônia e Amazonas), BR-364 (entre MT e Porto Velho/RO) e a BR-135 (conectando corredores de exportação da soja do MATOPIBA a São Luís (MA). Além de cruzarem territórios de povos indígenas, comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais, causando conflitos e violações de direitos, a construção das ferrovias e a duplicação e/ou pavimentação das rodovias promoverão o desmatamento e a chegada de outras atividades predatórias, como exploração madeireira e garimpagem ilegal. E, por isso mesmo, esses povos e comunidades resistem.
Uma faixa dos Munduruku, quando bloquearam uma Audiência Pública da Ferrogrão em Itaituba em 2017, diz tudo: “Povo Munduruku diz: Não a Ferrogrão! China: a soja que você compra tem sangue indígena. No Tapajós não passará. Água é vida”.
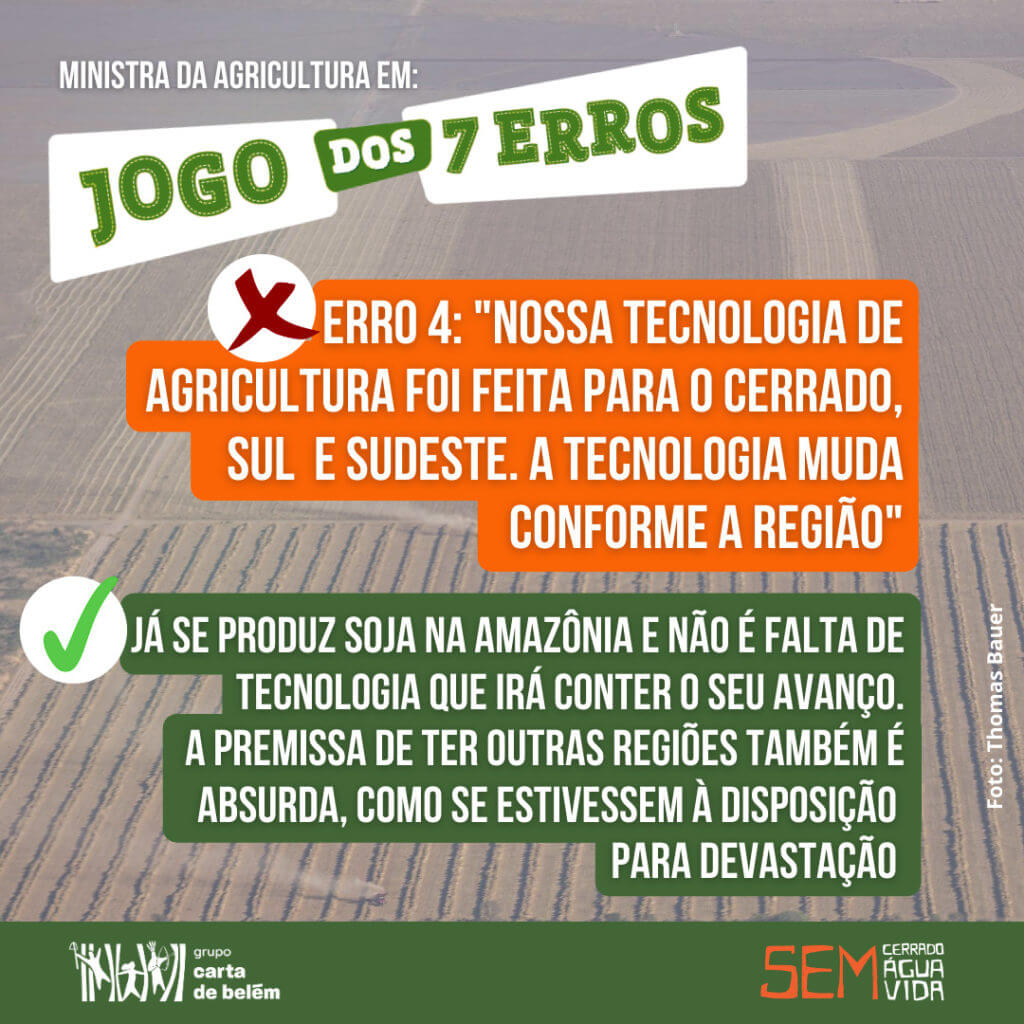
Não é uma premissa inventada pela ministra. A Mata Atlântica vem sendo devastada desde o início da colonização, ao ponto de exaustão. A expansão da fronteira agrícola sobre o Cerrado, sobretudo a partir da década de 1970, em pleno regime militar, foi justificada pelo então presidente da Campo (empresa implementadora do Prodecer – Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento dos Cerrados), Paulo Afonso Romano, como uma forma de contenção da expansão da fronteira sobre a Amazônia: “O bom senso de atrair maior atenção para os Cerrados, enquanto se amadurece a solução amazônica, deve ser considerado como uma histórica correção de rumos na busca de novas regiões agrícolas”. Ainda hoje, a cooperação japonesa celebra o Prodecer como uma experiência exitosa por transformar uma terra “infértil” (sic) em um “celeiro de commodities”.
Qualquer semelhança com a fala da ministra não é mera coincidência: se trata de uma visão estrutural da “modernização conservadora” no campo, que persiste há décadas. Obviamente é uma farsa, já que não impediu a expansão do agronegócio sobre a Amazônia. Mas ajudou a cristalizar a ideia de que o Cerrado serviria de suposta contenção à devastação da Amazônia, não porque se preocupam com a região, mas porque há mais pressão internacional sobre a destruição da floresta, do que sobre a devastação da savana brasileira. E tudo isso apesar do Cerrado ser a savana mais biodiversa do planeta, contendo cerca de 5% da biodiversidade mundial.
Esse tipo de discurso fez com que chegássemos ao ponto de ¾ de toda área plantada com commodities como soja, milho, algodão e cana-de-açúcar (PAM/IBGE) e 80% de todos os pivôs centrais (ANA) no Brasil estejam no Cerrado e em suas áreas de transição. Os diversos governos veem a região como um vazio demográfico para a entrada dos monocultivos do agronegócio, tendo desmatado até hoje mais da metade das matas nativas do Cerrado contínuo (INPE), expulsando povos e comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais de seus territórios e provocando o sacrifício das águas dos rios e dos aquíferos que alimentam as principais bacias hidrográficas do país.
O Cerrado é berço das águas e lugar de vida de diversos povos indígenas e comunidades quilombolas e tradicionais e não está disponível para o agronegócio devastar como quer a ministra!
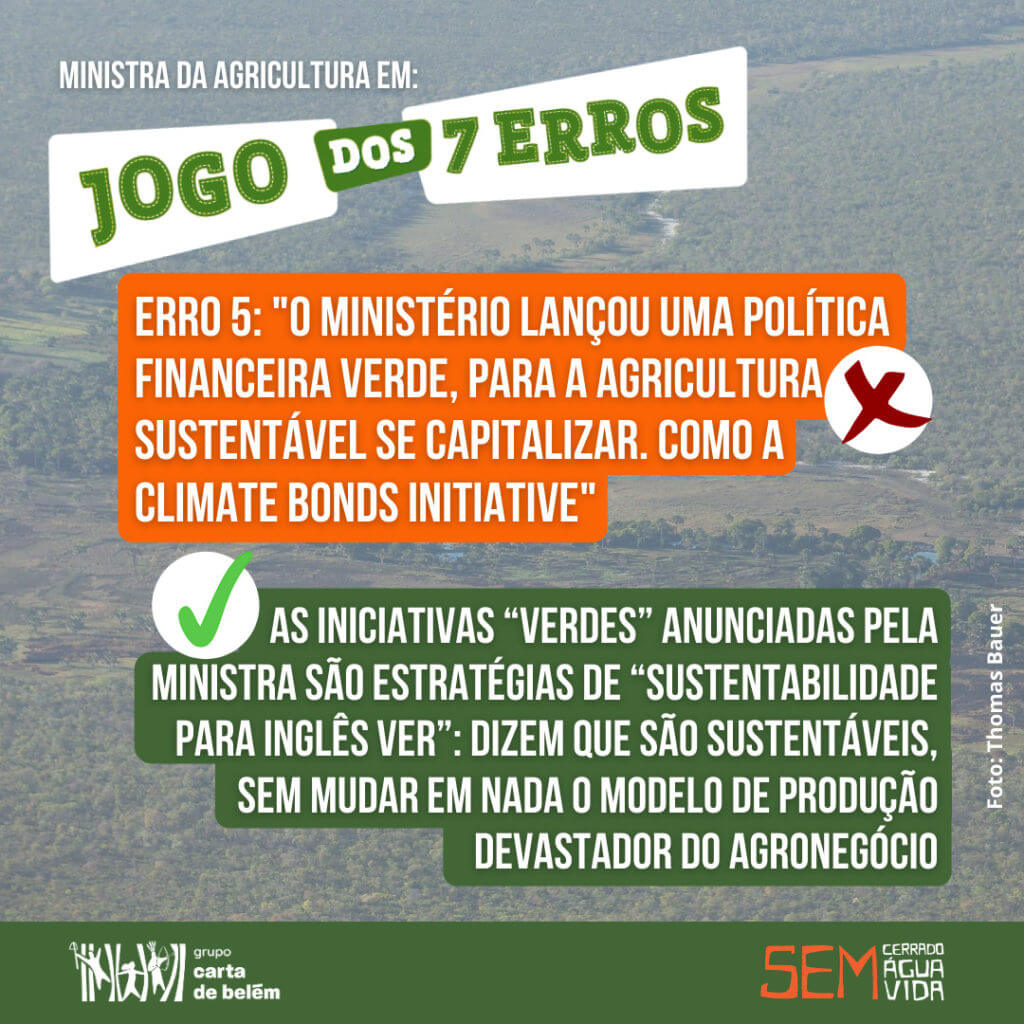
Esse tipo de “títulos verdes” (green bonds) estão em alta no mercado financeiro e são um caso exemplar de falsa solução de mercado para as crises climáticas e ambiental que o Grupo Carta de Belém vem denunciando há mais de 10 anos. Certos setores econômicos, em especial aqueles das commodities com base em combustíveis fósseis (petróleo e gás natural) ou que estão fortemente ligadas ao desmatamento de florestas e matas nativas (como soja e carne), estão cada vez mais pressionados para se provarem sustentáveis. A base de tudo isso é a preocupação cada vez maior das pessoas com a crise ambiental e climática.
Diante disso, alguns setores do agronegócio têm investido em estratégias de “esverdeamento” de sua imagem, divulgando iniciativas tecnológicas e financeiras que, em teoria, resolveriam os problemas. Mas tudo isso sem, na prática, mudar em nada as características que fazem desse modelo produtivo intrinsecamente insustentável: a extrema concentração fundiária; modelo industrial de produção de monoculturas animais e vegetais; e o uso intensivo de insumos com base em pacotes tecnológicos controlados por poucas grandes corporações, promovendo a contaminação das águas e solos e a erosão da biodiversidade.
Os títulos verdes são títulos de dívida que empresas do mercado financeiro comercializam para captar recursos, prometendo que seu destino será para iniciativas “sustentáveis”. A organização internacional Climate Bond Initiative (CBI), mencionada pela ministra, com sede em Londres, se apresenta como uma instituição dedicada a canalizar recursos financeiros privados para projetos que impliquem em “soluções para as mudanças climáticas”. Na prática, eles “certificam” projetos que poderiam então ser qualificados como “sustentáveis”, de modo a captar recursos de investidores que queiram focar sua carteira de investimentos nesse tipo de projeto. Mas quem e com base em que critérios se determina que um projeto é “sustentável”?
Um dos projetos que o governo quer certificar junto à CBI como “sustentável” para financiar com base em “títulos verdes” no mercado financeiro é a Ferrogrão, uma ferrovia de quase mil quilômetros ligando Sinop, no Norte do Mato Grosso, a Itaituba, no Oeste do Pará, para escoar soja. Se concretizada, a ferrovia cruzaria um mosaico de áreas protegidas, territórios de povos indígenas e comunidades ribeirinhas, e que já foi denunciada pelos indígenas Munduruku no Congresso Nacional. Além disso, o projeto viabilizaria ainda mais a expansão dos monocultivos bem no eixo do chamado “Arco do Desmatamento”. Estimativas do Instituto Mato-Grossense de Estudos Agrícolas (Imea) em 2019 indicavam que a construção da ferrovia poderia ampliar em 70% a safra de soja e milho no estado em 10 anos.
Ou seja, a próxima vez que alguém te disser que o mercado financeiro vai ajudar a promover “soluções para a crise climática e ambiental”, desconfie de discursos vazios…
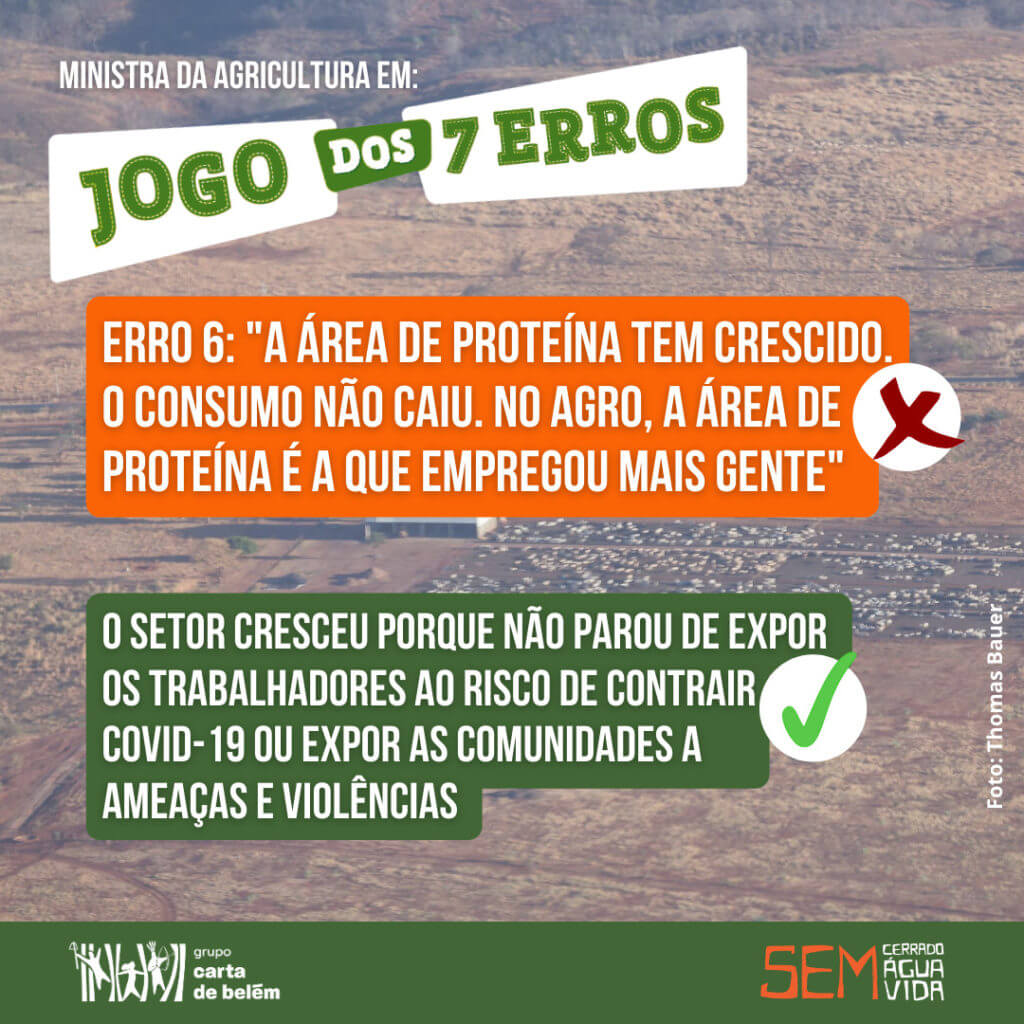
O agronegócio emprega pouco. O modelo estruturado pela mecanização e uso intensivo de insumos industriais implica justamente em concentração fundiária e de riqueza nas mãos de poucos às custas da expropriação e exploração de muitos. Mesmo os setores do agronegócio que mais empregam, como os frigoríficos, não oferecem dignidade aos trabalhadores e às trabalhadoras, que não tiveram nem o direito de fazer quarentena, e os frigoríficos se tornaram grandes focos de infecção por coronavírus.
A Confederação de Funcionários da Indústria da Alimentação estima pelo menos 200 mil afetados. Já o Ministério Público do Trabalho (MPT) tem 213 investigações abertas por surtos entre funcionários de frigoríficos em 22 estados. No Rio Grande do Sul, mais de 6 mil trabalhadores de frigoríficos do interior foram confirmados com a doença. Conforme o MPT, o estado tem 39 unidades frigoríficas, que totalizam 35.850 empregados. O percentual de infectados chegou a 17% do total. Cinco empregados e 12 pessoas, que tiveram contato com funcionários dos locais, morreram devido à Covid-19.
Em aldeias indígenas no Mato Grosso do Sul a Covid-19 se espalhou principalmente por meio dos frigoríficos e das lavouras de cana-de-açúcar, os quais contam com trabalhadores indígenas, Kaiowá e Guarani. Segundo a Repórter Brasil, a região de Dourados se tornou o epicentro da pandemia no estado, com quase 2 mil infectados, 136 dos quais são indígenas (Sesai). Desse total de contaminados indígenas, 33 são empregados do frigorífico da JBS, conforme informou o MPT. No oeste do Paraná, 35 casos foram confirmados entre os Avá-Guarani que trabalham em frigorífico na região, tendo outros suspeitos e tendência de rápido avanço da doença para outras aldeias. No Rio Grande do Sul, a maioria dos casos de Covid-19 nas comunidades indígenas está vinculada aos indígenas que trabalham em frigoríficos da empresa JBS na divisa com Santa Catarina.
Os dados mostram como o agronegócio ajudou a espalhar o vírus pelo país, sobretudo em comunidades e municípios pequenos. Muitos empregadores se preocupam mais em não contaminar a carne do que em evitar a proliferação da Covid-19 entre os trabalhadores.
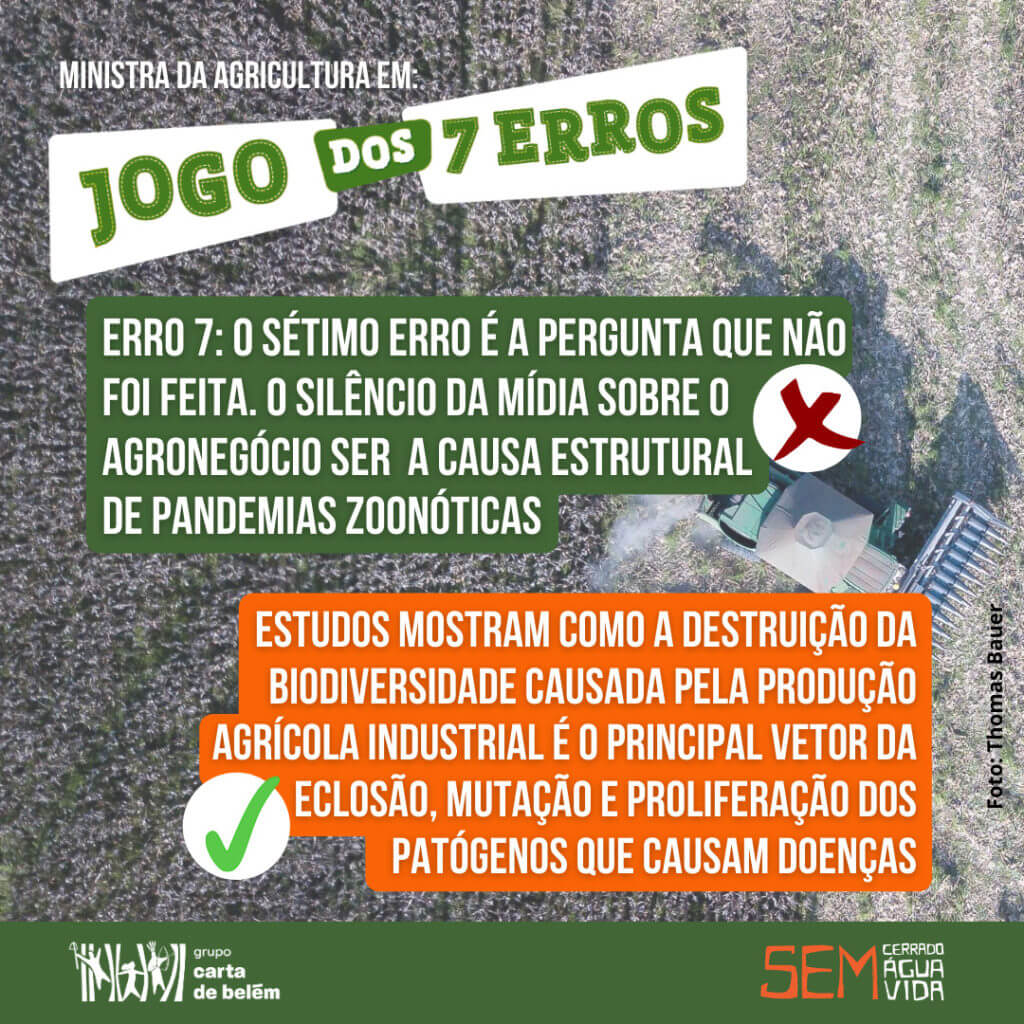
Nos despedimos com um convite para uma leitura sobre aquilo que a mídia corporativa se recusa a falar:
“Há um silêncio ensurdecedor na mídia sobre as causas dos surtos recorrentes de doenças zoonóticas nos últimos 20 anos, tais como Covid-19, gripe aviária e gripe suína. No entanto, diversos estudos vêm, há anos, mostrando como a destruição da biodiversidade causada pela produção agrícola industrial é o principal vetor da eclosão, mutação e proliferação dos patógenos que causam estas doenças. E como, se nada for feito para mudar, é uma questão de tempo para o surgimento de novos vírus e doenças.
A história da devastação do Cerrado [e da Amazônia] reúne todos os ingredientes para a potencial eclosão da próxima pandemia global. E as políticas de incentivo ao agronegócio e à grilagem de terras contribuem para intensificar esse cenário. Por outro lado, a resistência dos povos dos cerrados, das florestas, dos campos e das águas em seus territórios é o melhor caminho para promover a conservação da biodiversidade, que é o melhor remédio contra pandemias”.
Fonte: Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e Grupo Carta de Belém
Imagem em destaque (ministra Tereza Cristina): Marcelo Camargo / Agência Brasil




